
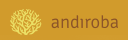
Fazer com que as propriedades privadas assimilem o ideário da Sustentabilidade é um sonho acalentado por significativa parcela do movimento ambientalista.
Guiados por forte viés preservacionista, esses ambientalistas advogam que, mediante a outorga de incentivos estatais, a exploração dessas propriedades poderia se dar sob critérios sustentáveis, mitigando-se, desse modo, os impactos ambientais decorrentes das atividades produtivas nelas praticadas.
Abarcada por essa designação genérica – incentivos estatais – estaria a conversão de propriedades privadas (individualmente ou em conjunto) em Unidades de Conservação, conforme prevê a Lei 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Snuc). Mas, o que a experiência tem demonstrado é que, sem desapropriação, os efeitos da criação de Unidades de Conservação são inócuos.
Individualmente, uma propriedade privada pode ser gravada como Reserva Particular de Patrimônio Natural – RPPN, o que garante ao proprietário o status de amigo do meio ambiente, possibilitando-lhe o acesso a fundos públicos, como o Fundo Nacional de Meio Ambiente (que, por sinal, praticamente não opera desde 2003).
Todavia, em termos gerais, o assento da propriedade como RPPN não implica em restrições significativas – de forma a garantir-se exclusivamente a exploração de atividades produtivas ambientalmente adequadas. Assim, nessa categoria de Unidade de Conservação, pode ser admitida até mesmo a pecuária bovina, uma das atividades rurais que mais causam impactos ambientais. Não são raras as situações em que pecuaristas acalentam (e põem em prática) a ideia de construir uma pousadinha, dita ecológica, visando a conversão de suas propriedades em RPPN.
Quando existe um número maior de propriedades particulares reunidas numa determinada área passível de delimitação, o Snuc prevê três possibilidades, de acordo com as características da área em questão: Área de Proteção Ambiental – APA; Área de Relevante Interesse Ecológico – Arie; Reserva de Desenvolvimento Sustentável – RDS.
Entre essas categorias, a APA é a mais comum, uma vez que para a sua constituição, basta que a respectiva área possua algum atributo, seja ecológico, paisagístico, social, cultural, e assim por diante.
Ademais, a criação de uma APA (como de resto de uma Arie ou de uma RDS) não traz implicações orçamentárias, bastando apenas a assinatura de um decreto, em âmbito federal, estadual, ou municipal. Assim, a constituição da Unidade de Conservação não assegura de maneira alguma, como é comum se pensar, que dali por diante, o Poder Público estará mais presente na região. O que na absoluta maioria das vezes acontece é a mera instituição legal, sem maiores decorrências práticas. É frequente a criação de APAs durante as Semanas do Meio Ambiente – desse modo, o Prefeito, que quase sempre não tem iniciativas a apresentar – pode jactar-se de uma ação concreta.
Por outro lado, é fantasiosa a expectativa – nutrida pelos ambientalistas e pelos abnegados agentes públicos da área ambiental que acreditam nessa frágil categoria de Unidade de Conservação – de que a instalação da APA mudará a mentalidade das pessoas que moram nos seus limites, transformando-as (de preferência logo após a assinatura do decreto) em ativos defensores do meio ambiente.
Na verdade, numa APA, qualquer atividade é possível. A transformação de uma área em APA não obriga que a exploração das propriedades ali presentes obedeça a critérios sustentáveis. Tanto é verdade, que, a despeito das inúmeras APAs constituídas Brasil afora, é possível se afirmar que a criação dessas Unidades de Conservação apresenta resultados pífios para o meio ambiente.
No frigir dos ovos, a criação de Unidades de Conservação sem desapropriação não passa de um engodo, de uma grande quimera. Somente por meio do domínio público sobre a terra, o Estado pode restringir o seu uso à exploração de atividades produtivas ambientalmente corretas.
Somente mediante a desapropriação, as Unidades de Conservação poderão se consolidar.