
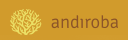
De um lado, o desmatamento, anual e persistente, que desde 2012 não fica abaixo de 5.000 Km2 de área de floresta destruída na Amazônia.
De outro, a elevação da temperatura, tornando o calor insuportável na Amazônia, com termômetros oscilando acima de 40º e acima disso no Acre, no período seco, nos meses de julho a setembro.
Separar o impacto decorrente do aquecimento do planeta daquele devido à destruição, nuca é demais repetir, anual e persistente das áreas de floresta na Amazônia, tem atraído esforço inédito de cientistas em nível nacional e internacional.
A prioridade na busca pela quantificação das consequências trazidas por cada tipo diferente de causa, desmatamento e aquecimento do planeta, pode confundir a cabeça dos menos envolvidos com o tema, mas é acertada e de certa maneira bem simples.
Mesmo que o desmatamento represente expressiva fonte do aquecimento do planeta, por isso a compreensível confusão mental, zerar a destruição das florestas na Amazônia só depende dos brasileiros.
Da mesma maneira que a redução da temperatura do planeta será possível somente com a participação de todos os países associados à Organização das Nações Unidas, ONU, em especial os mais industrializados.
Em síntese, com soberania e autonomia ampla geral e irrestrita para executar as soluções, bastante conhecidas por todos diga-se, de modo a zerar o desmatamento da Amazônia só depende de nós, brasileiros.
Diversos estudos conseguiram demonstrar uma diferenciação, quase sempre esquecida pelos acadêmicos e jamais lembrada pelos profissionais da imprensa que se empenham em mostrar a tragédia das secas e alagações, significativa entre os dois eventos.
Tentando esclarecer sem complicar a tese, bem atual, acerca das consequências trazidas pelo desmatamento e aquelas resultantes do aquecimento global, pode ser descrita assim:
Desmatamento tem impacto direto na chuva que cai ou não no local que foi desmatado e indireto em outras regiões do país.
Aquecimento global tem influência direta na temperatura ao aumentar o calor de maneira geral em todo planeta (por óbvio, uma região antes considerada quente potencializará a sensação térmica).
Continuando com o raciocínio, ao colocar a destruição da floresta no centro do debate sobre precipitação ou chuva, fica claro que as trágicas alagações e secas possuem causa primordial no desmatamento da Amazônia e bem menos nas mudanças do clima planetário.
Infelizmente, os jornalistas e gestores públicos preferiram associar a última alagação no Acre ao aquecimento do planeta e a tudo mais que não o desmatamento no próprio Acre e na Amazônia, erraram novamente, como sempre.
Zerar o desmatamento é uma decisão de política pública, em especial do governo federal, que fará chover mais ou menos na Amazônia e no país. Simples assim!
Demorou mais do que devia, mas a madeira finalmente foi reconhecida como matéria-prima preferencial para uso cotidiano em milhares de aplicações possíveis, do carro ao computador passando, em especial, pela construção civil.
Sem qualquer razão plausível a madeira foi hostilizada por décadas pela porção mais desinformada do movimento ambientalista brasileiro, que ainda não admite que uma árvore seja derrubada, a despeito de ter sido plantada e cultivada em florestas para uso comercial (saiba mais aqui http://www.andiroba.org.br/artigos/?post_id=2257).
Com equívoco assombroso e recorrente os ambientalistas cegos preferem defender o uso de minerais, com destaque para o alumínio como substituto da madeira nas janelas de prédios e residências de baixo custo destinadas a programas de habitação popular, que são oriundos de jazidas e explorados pela mineração até a exaustão.
Não consegue entender, aquele ambientalista cabeça dura, e muitos ainda não compreendem o significado, para a sustentabilidade do planeta, de uma matéria-prima renovável.
O que coloca a madeira em um pedestal único para mitigar os efeitos da grave crise oriunda do aquecimento global.
Deixando mais claro. Diferente do alumínio, a árvore que deu origem a madeira que foi manufaturada em um guarda-roupa ou mesa, será plantada novamente renovando um ciclo virtuoso de sequestro e imobilização de carbono na rotina diária da humanidade.
Enquanto durar a mesa, o que pode levar até 100 anos, quase 100% da madeira composta de celulose com igualmente quase 100% de carbono ficará retido na mesa dentro da casa ou do escritório do usuário.
Melhor ainda, na equação que ajuda a salvar o planeta do calor, não entra somente a quantidade de carbono que ficou retida na mesa, posto que de maneira natural ou plantada novas árvores surgem e, em seu processo de crescimento, vão retirar todo carbono da atmosfera para transformar, ou melhor, para fazer a madeira do tronco que vai virar novas mesas.
Depois de serem aplaudidos pela construção do maior prédio do mundo em madeira (saiba mais aqui http://www.andiroba.org.br/artigos/?post_id=4137) os engenheiros florestais e cientistas japoneses com ousadia de sobra, chegaram ao limite de construírem um satélite, todo em madeira.
Sob a justificativa, muito inteligente diga-se, de contribuir para reduzir o lixo espacial que é composto em mais de 80% de alumínio, que resiste até o fim do mundo e inclusive quando atraído pela força de gravidade dos planetas, a madeira se desintegra durante sua vida útil e, o mais impressionante, entra em combustão virando cinzas antes de retornar ao solo do planeta.
A lição dos japoneses, um país insular formado por um arquipélago e com óbvias dificuldades para disponibilizar solos para cultivar árvores, deve ser assimilada pelos brasileiros que possuem área agrícola de sobre para plantar árvores.
Aos ambientalistas desinformados, por sua vez, restaria ainda perder o desprezível preconceito com a espécie florestal que representa mais de 90% das árvores plantadas nos pais, o eucalipto, que, de maneira estupida, ainda é condenado por causar uma falaciosa seca do solo.
Tanto árvores de eucalipto, usadas em móveis e para produzir celulose que dentre centenas de uso também se transformam no nosso papel de cada dia, quanto as florestas nativas da Amazônia, podem e devem ser usadas com tecnologia para gerar renda para a sociedade ao mesmo tempo em que cumprem sua, muito prestigiada, função ecológica de retirar e estocar o carbono da atmosfera.
Além de superior em beleza e do ponto de vista arquitetônico a madeira é sustentável, melhor deixar o alumínio somente na latinha de cerveja, ou nem isso!
Da mesma maneira que Corumbá concentra a maior porção da área alagada ocupada pelo bioma Pantanal, equivalente a 37% do total e expressivo 60% da parte sob a responsabilidade do Mato Grosso do Sul, também recebe 75% do fogo registrado nos últimos 30 dias.
Por razões geográficas óbvias Corumbá é a Capital do Pantanal e embora não use essa marca para dinamizar sua economia, com o fortalecimento do turismo e da pesca, por exemplo, a sustentabilidade do cotidiano na cidade depende da ecologia da alagação do Pantanal.
Resumindo, enquanto que para a economia as autoridades locais não conseguem enxergar o diferencial competitivo representado pelo exclusivo e único Pantanal, para o meio ambiente urbano a ocupação da cidade pode ser inviabilizada pela fumaça e calor proibitivos para a vida das pessoas.
Mas a pergunta, repetida às tantas, e respondida com muita dificuldade pela maioria e, sobretudo com constrangedora indiferença pelos gestores públicos, estaduais e municipais, pode ser resumida assim: Qual a causa de tanto fogo em Corumbá?
A resposta rápida e, dessa vez correta, também pode ser resumida assim: a criação extensiva de boi.
Infelizmente e de maneira proposital ou não, algo difícil de aferir, a resposta correta costuma ser contaminada, com perdão da expressão, por uma insistência em afirmar que existem causas naturais e antrópicas para o fogo em Corumbá.
A despeito de haver uma distancia absurda entre o quantitativo de fogo vindo de causas naturais, que não passa de 5% dos focos de calor, e daquele fogo usado pelos produtores rurais, que representa o restante 95%, a discussão se volta para as tais causas naturais.
Contudo, não é de se espantar que o 5% de fogo originado por raios e relâmpagos receba atenção especial de todos, inclusive e especialmente dos jornalistas sempre apressados para noticiar tragédias.
Nesse contexto a seca ganha uma relevância especial na ocorrência natural do fogo e ajuda a formar uma ideia-força no imaginário popular de que com relâmpagos e secas não há nada que se possa fazer, melhor se conformar.
Mas, não é bem assim.
E aqui entra outra distração para enfumaçar, com perdão do trocadilho, a identificação da primitiva criação extensiva de gado como causa principal do fogo no Pantanal.
No universo do que se costuma chamar de produção rural entra tanto as atividades praticadas com reconhecida tecnologia, sendo a maioria delas aprimoradas e adequadas à nossa realidade pela excelente Embrapa, como o agronegócio da soja e outros grãos, quanto a superada pecuária extensiva.
É aqui que a porca torce o rabo, perdão pelo trocadilho novamente.
Ocorre que ao ser praticada por pequenos e médios produtores, a criação do boi solto no pasto usa e, como não poderia ser diferente, abusa das queimadas e são defendidos pelos gestores públicos e políticos populistas sob a justificativa, ultrapassada diga-se, da dicotomia entre fogo versus fome, ou queima ou não tem o que comer.
Ao colocar a principal causa do fogo no Pantanal em Corumbá na criação extensiva de gado, a Embrapa e a sociedade poderia discutir e encontrar uma solução para a umidade e a alagação voltar ao bioma.
Somente com uma pecuária menos extensiva, sem uso de queimadas e com a tecnologia que a Embrapa domina, a tragédia anual do desmatamento na Amazônia e do fogo no Pantanal deixará de ocupar o noticiário sensacionalista.
Finalmente, é possível resolver o trágico problema do fogo no Pantanal apoiando a economia que vem das áreas alagadas, mas sem o boi solto no pasto.
Nunca é demais repetir a lógica de um raciocínio, em tese, simples. Vamos lá.
Em 2015 os brasileiros assinaram o Acordo de Paris e se comprometeram em zerar o desmatamento da Amazônia a partir de 2030.
A pecuária extensiva é a atividade produtiva hegemônica na região, que ocupa as terras com localização mais nobres, nas margens das rodovias (364, 317, 174, 230, 319…) e dos rios (Purus, Negro, Solimões, Madeira…).
Para criar boi solto no pasto o produtor deve desmatar todos os anos posto que a viabilidade econômica da pecuária extensiva exige a incorporação regular de novas terras antes ocupadas por florestas.
Bancos de fomento rural, em especial o Basa, fornecem o dinheiro por meio do necessário e imprescindível crédito oriundo do Fundo Constitucional do Norte (FNO) para cobrir os custos do desmatamento e do aumento do plantel de gado na Amazônia.
Mesmo com intensidade de recursos públicos investidos na remuneração de fiscais e militares, e na compra e manutenção de veículos, a fiscalização estatal não conseguiu, desde a década de 1970, um ano sequer em algum Estado com desmatamento zero, mesmo quando se considera somente o desmatamento ilegal.
Em contrapartida, atividades produtivas baseadas no manejo da biodiversidade florestal apresentam produtividade bem superior à criação do boi solto no pasto, porém nenhum produtor rural na Amazônia abandonará a atrativa pecuária extensiva sem o apoio expressivo da política pública.
Uma transformação produtiva regional desse tamanho, indo da pecuária para a exploração técnica da biodiversidade florestal, exige planejamento de longo prazo, mas que deve ter início hoje.
Afinal, trata-se de uma transformação produtiva que depende de um pacto federativo entre União, Estados e Municípios viabilizado somente uma vez na história econômica da Amazônia para o legítimo objetivo de tornar a pecuária extensiva atividade econômica primordial na região.
Por isso, identificar o momento do planejamento estatal em que ocorreu a alteração de visão que decretou o fim do extrativismo florestal como atividade econômica e promoveu a pecuária extensiva à condição de única opção possível, permitirá compreender o equívoco da justificativa técnica que sustentou essa alteração.
Para se ter uma ideia, o potencial da biodiversidade – tido como o maior recurso estratégico da Amazônia – foi considerado à época como um dos principais empecilhos para o crescimento econômico.
Por sinal, a bioeconomia para Amazônia deveria resgatar o momento em que os planejadores reduziram as potencialidades econômicas do ecossistema florestal amazônico à oferta de um produto e única árvore: a borracha da seringueira.
Contudo, ao ser analisada sob a ótica da teoria das vantagens comparativas e tendo-se como escopo sua inserção num processo de planejamento, a biodiversidade florestal deve ser assumida como principal referência de planejamento.
Nunca é demais repetir que o pujante e acessível ecossistema florestal e a existência de uma população que tradicionalmente sabe como manejá-lo são as duas maiores vantagens comparativas da Amazônia.
Finalmente, a análise dessas duas vantagens comparativas levará à constatação do valor ou à precificação, num processo de planejamento, das potencialidades da biodiversidade específica de cada local e para o conjunto da Amazônia.
A bioeconomia poderá, considerando a heterogeneidade das florestas, estabelecer princípios para criar e manter as vantagens comparativas da Amazônia.
Não é de agora, a discussão sobre o mercado voluntário de carbono com foco na sua relevância para o desmatamento zero da Amazônia vem sendo publicada aqui, nesse site, em artigos desde, pasmem, 2006 (acesse: Associação Andiroba).
Inicialmente discutido no âmbito da teoria sobre Pagamento por Serviços Ambientais, a manutenção do estoque de carbono nas árvores se referia a apenas um dos serviços ambientais, que poderia ser complementado pela participação das florestas na qualidade e quantidade de água potável, por exemplo.
Se, de uma lado, o serviço prestado pelas florestas em relação a água, inclusive para minimizar efeitos de alagações e secas ainda carecem de precificação, a academia e pesquisadores, brasileiros e internacionais, dedicaram esforço considerável para transformar em dinheiro o valor do carbono retido nas árvore.
Sem detalhar muito, as árvores e seu conjunto as florestas, nativas e plantadas mas no caso da Amazônia as nativas importam mais, são reconhecidos repositórios de carbonos e consideradas a tecnologia mais barata e com maior efetividade social e econômica para retirar o carbono que se encontra na atmosfera.
Uma vez retido, o carbono precisa ser mantido na estrutura de madeira das árvores por centenas de anos, desde que não ocorra desmatamentos, o que deixa as florestas amazônicas em posição de destaque.
Chamado de mercado voluntário de carbono, os projetos que garantem a conservação de uma área de floresta na Amazônia, após quantificada e cercada de garantias contra o desmatamento, começaram a receber financiamento de países e de empresas interessadas em cumprir metas de descarbonização de sua cadeia produtiva.
Acordos internacionais aprovados no âmbito das Conferencias da Partes da Convenção do Clima assinada na Rio 92, realizadas pela Organização das Nações Unidas desde 1995, quando Berlim, na Alemanha, sediou a COP 01, reforçam a importância dos países estabelecerem mercados institucionais para as negociações de carbono.
Impulso expressivo para institucionalizar o mercado regulado de carbono, que se diferencia do mercado voluntário devido a oficialização pelos governos, veio da assinatura, ainda em 2015, do Acordo de Paris.
No caso brasileiro, uma proposta de legislação específica foi aprovada no senado em 2023 e está em discussão pelo parlamento nacional, devendo receber aprovação definitiva ainda em 2024 (acesse: Associação Andiroba).
Disponibilizar informação, sobre o mercado voluntário e o regulado, tem se mostrado um problema para a transparência das negociações e o avanço de um mecanismo chave para o desmatamento zero da Amazônia.
A boa notícia é que em uma iniciativa a ser comemorada o Idesan (Idesam – Conservação e Desenvolvimento Sustentável) preparou e publicou em seu site um mapa interativo sobre os projetos que movimentam quantidades expressivas de carbono em fase de negociação e de execução na Amazônia.
Ao acessar https://idesam.org/painelprojetoscarbonoflorestal/ o interessado visualiza em um mapa a distribuição, localização e o porte das iniciativas no mercado voluntário de carbono na Amazônia e no Amazonas.
São mais de 100 projetos listados com detalhes sobre proponente, beneficiário, valor negociado para os pagamentos, tamanho da área de florestas manejadas para estocar carbono e, o melhor, submetidas a garantia de conservação por meio de monitoramento por satélite.
A expectativa é de que a cada dia uma nova área de floresta nativa da Amazônia esteja adicionada ao mercado de carbono com desmatamento zero, para sempre!
Embora tenham enfrentado situação de emergência em tragédias devido a recorrência de alagação e seca no Rio Acre, os atuais gestores municipais da capital Rio Branco e boa parte das administrações anteriores não se esforçam para tornar o rio e os vários igarapés tributários em pauta para a política pública.
Na verdade o dilema é um pouco mais grave (saiba mais aqui http://www.andiroba.org.br/artigos/?post_id=1905).
Em raríssimos momentos, até mesmo durante o extremo apelo emocional e comoção pelas famílias alagadas, os políticos com mandato atual no município buscaram promover discussões e debates públicos sobre as alternativas possíveis, soluções para evitar o colapso do rio.
Elevar a vazão, com perdão do trocadilho, do Rio Acre em pauta política significaria tratar o excesso ou falta da água que flui no leito do rio em um problema a ser encarado por uma agenda de ações administrativas rotineiras e anuais a serem executadas pelas administrações, como acontece com saúde e educação, por exemplo.
Tipo assim. Ao invés de insistir na muitas vezes desnecessária e absurda poda de árvores, em uma cidade onde as temperaturas beiram os comuns 40 graus e a sombra faz uma diferença impressionante, ações de rotina para promoção da resiliência do rio seria priorizado (saiba mais aqui http://www.andiroba.org.br/artigos/?post_id=2523).
Por sinal, além da ampliação da capacidade de resiliência dos fluxos de água, com destaque para o Igarapé São Francisco e o Rio Acre, a política pública também deve planejar, em todos os anos, a resistência publica para o enfrentamento dos impactos da alagação nas residências.
Retirar as famílias e as casas dos leitos, mesmo quando se confunde o leito com a margem, como no caso da curva do bairro da Base no centro da capital que é sempre o primeiro a aparecer no noticiário sedento pelo gosto de tragédia, faria parte de uma ação corriqueira de resistência pública.
Transformar a parte do leito ocupado pelas cheias em espaço público de observação da água, isolar para que não ocorra retorno de alguns desavisados acostumados com os falsos atrativos da alagação, plantar árvores adaptadas à mata ciliar e assim por diante, são ações que requerem rotina administrativa por parte da prefeitura (saiba mais aqui http://www.andiroba.org.br/artigos/?post_id=2515).
Rotinas que ocorrem somente e quando o problema se transforma em pauta para a política pública, são discutidos pelos parlamentares na Câmara e devolvidos com projetos de solução para a população.
Não se esqueçam, não será com romantismo que o problema será resolvido. Incentivar a população a amar o rio é muito bom, mas não será com abraços que a vazão do rio vai se comportar.
A ladainha sobre uma seca que será recorde está só começando e no mesmo estilo da alagação do início do ano.
Da mesma forma que nunca veio não virá da imprensa, local ou nacional, nada que se possa usar em um debate sobre projetos para resolver alguma coisa em Rio Branco ou em nenhum outro lugar.
E, pense bem, não existiria razão para racionar água se o serviço de água e esgoto estatizado funcionasse com o mínimo de eficiência, mas isso é outro artigo.
Encerrando uma série de 10, o presente texto sintetiza as discussões sobre o fim do Projeto Florestania no Acre.
Tomando por base a teoria sobre o Triangulo de Governo foi possível analisar as razões para que o Projeto Florestania no Acre, 20 anos e cinco eleições vitoriosas mais tarde, fracassasse em 2018 e 2022.
Um mandato governamental de quatro anos, segundo o conceito concebido e popularizado pelo economista chileno Carlos Matus ainda na década de 1970, será avaliado pela sociedade com base no desempenho do Projeto de Governo, da Capacidade de Governo e da Governabilidade.
Quando os três vértices caminham juntos e em equilíbrio o sucesso do governo estará garantido, quando não, o fracasso será inevitável.
Projeto de Governo é a estratégia para construir o futuro da região.
Fornece um rumo para a economia estadual, ou um modelo de desenvolvimento que vai pautar as ações de cada instituição pelo tempo necessário para que as atividades produtivas planejadas no projeto caminhem sem descontinuidade e com pouca, ou melhor, sem ajuda do orçamento púbico.
No caso do Projeto Florestania, os líderes políticos que assumiram o governo em 1999 convenceram os acreanos e por isso venceram as eleições sobre a estagnação da economia devido aos limites para expansão da pecuária e, de outra banda, que o progresso do Acre não dependia da convivência com a tragédia do desmatamento.
Por óbvio, o princípio da saída econômica pela floresta não saiu da cabeça dos líderes políticos.
O modelo foi gestado por um conjunto de organizações não governamentais com suporte científico de instituições de pesquisa e das universidades federais que atuavam na região.
A rigor, desde o final da década de 1980 que o efeito nefasto do desmatamento para criação extensiva de gado ganhara a mídia nacional e internacional, mobilizando cientistas e técnicos na discussão de um modelo alternativo de desenvolvimento para a Amazônia.
Dois legados do Acre são reconhecidos para conceituação do modelo da saída pela floresta.
Reservas Extrativistas e a tecnologia de manejo florestal comunitário para sua exploração foram inventadas no Acre e ganharam o país e o mundo.
Vários relatórios de pesquisa, dissertações de mestrado e teses de doutorado comprovaram a superioridade econômica estratégica da biodiversidade florestal frente a criação de boi solto no pasto.
Defendendo o pressuposto do desmatamento zero, o Projeto Florestania conseguiu reunir todos que acreditavam ser possível explorar com técnica apurada sementes, madeira, fauna e o atual mercado de carbono.
Ou seja, gerar riqueza e trabalho no Acre com a floresta em pé.
Infelizmente, após um início identificado com a vocação florestal do Acre, em que a aprovação da Política Estadual de Floresta e a contratação dos financiamentos junto ao BNDES, Bird e Bid, são as principais referências, o Projeto Florestania mostraria sinais perigosos de esgotamento.
Embora seja difícil estabelecer uma data, pode-se afirmar que até 2006, por força da herança bendita vinda da mobilização da sociedade civil pelas Reservas Extrativistas e dos financiamentos bancários condicionados ao desmatamento zero, a Capacidade de Governo foi direcionada para atividades produtivas baseadas na biodiversidade florestal.
Capacidade de Governo são as instituições que o governo dispõe para tornar realidade as demandas imediatas e futuras da sociedade. Representa a estrutura física e de profissionais direcionadas para executar as ações previstas no Projeto Florestania.
Com reforço de um expressivo número de técnicos vindo das organizações não governamentais a Capacidade de Governo disponibilizada para o Florestania era mais que suficiente.
Não eram poucos técnicos, estavam bem qualificados e dariam conta da transformação produtiva do Acre em direção a biodiversidade florestal. Mas algo não aconteceu.
Faltou determinação política para evitar perda de esforço. Os líderes políticos, bem cedo, deixaram a equipe técnica e as instituições à deriva, quando pressentiram que a pecuária extensiva estava excluída da visão técnica e científica predominante na execução do Florestania.
Uma última tentativa de conciliação, de modo a não perder o eleitorado sensibilizado pela pecuária, movimentou os líderes políticos pela finalização e aprovação do Zoneamento Ecológico-Econômico, ZEE.
Tentando unir o impossível científico de se criar boi solto no pasto sem desmatar ou plantar capim embaixo da floresta, e o improvável político de receber os votos dos favoráveis e dos contrários ao desmatamento, o ZEE poderia funcionar como a tábua de salvação. Mas, não salvou!
Aprovado em 2007 o ZEE demarca o momento histórico, ou divisor de águas como preferem alguns, determinante para datar o começo do fracasso do Projeto Florestania enquanto modelo de desenvolvimento.
O governo propôs e os deputados aprovaram a redução da área de Reserva Legal.
Antes o pecuarista localizado ao longo das rodovias era obrigado a manter, com floresta, 80% da área de sua propriedade. O ZEE reduziu para 50% e destinou a diferença de 30% de solo com floresta para o plantio de capim.
Desde 2007, quando o ZEE passou a vigorar, até 2018, um total de 3.132 Km2 de florestas no Acre foram destruídas sob a chancela do Projeto Florestania.
Não deixa de ser paradoxal que a mesma atividade pecuária que concentrou tanto esforço político para barrar o ZEE, terminasse bastante beneficiada por sua aprovação. Mesmo assim, a despeito de serem privilegiados no ZEE, denúncias de perseguição ao produtor que queria desmatar foram usadas contra os líderes políticos do próprio Florestania. Insano não?
Finalmente, a partir daí a Capacidade de Governo passou a ser direcionada para favorecer a visão do Projeto Florestania que promovia o retrocesso até a estagnação econômica, trazida pela pecuária extensiva no final do século passado.
Governabilidade corresponde às condições políticas e negociações que permitem ao governo obter maioria na Assembleia Legislativa contando com a aprovação dos parlamentares para vários objetivos e por duas razões principais.
A primeira se refere à manutenção do poder, ou da estabilidade política de modo a evitar sobressaltos e pedido de impeachment que, mesmo quando naufragam, costumam causar paralisia decisória do executivo por longos períodos.
Evitar o desgaste é a palavra-chave para conquistar e manter a Governabilidade, o que exigia uma maturidade que se mostrou inexistente junto às lideranças políticas do Projeto Florestania.
A saída, como não poderia ser diferente, foi partir para o agrado generalizado transformando o Florestania em uma cesta de boas intenções onde todos poderiam colocar suas ideias.
Difícil determinar se foi a perda de identidade do Florestania que levou ao fracasso do projeto em 2018 ou se a Governabilidade conseguida por meio da mesma perda de identidade que garantiu o sucesso nas cinco eleições anteriores.
Mas a conclusão é simples, por vontade própria ou imperícia dos líderes políticos da época a sociedade no Acre deixou de avançar em um momento decisivo de sua história social, ecológica e econômica que é muito improvável de acontecer novamente.
Entretanto não há plano b, o retrocesso ao modelo de desenvolvimento do século passado, que depende do desmatamento para criar boi solto no pasto, será cobrado em breve pelos brasileiros de outras regiões e pelo mundo.
Afinal, na era do carro elétrico, da energia solar, eólica e das hidrelétricas, do mercado de carbono… o desmatamento zero da Amazônia não é negociável.
Teve um momento na história econômica da Amazônia em que o Acre despontava como criador de alternativa para uma ocupação produtiva que permitisse superar o persistente ciclo econômico da pecuária extensiva, que é sempre muito intensiva em desmatamento.
Do final da década de 1980 até o início do século atual, o legado do Acre para a política e o desenvolvimento da Amazônia incluiu duas importantes contribuições: a invenção das Reservas Extrativistas e a elaboração da tecnologia de uso múltiplo da biodiversidade florestal por meio do manejo comunitário.
Contudo, o fracasso do Projeto Florestania, que elevara o legado deixado por algumas organizações da sociedade civil como o Centro dos Trabalhadores da Amazônia ao nível de política pública de governo, trouxe o retrocesso do agronegócio da criação do boi solto no pasto, repetindo intensiva em desmatamento, à condição de única via para o desenvolvimento e progresso estadual.
Mas nem tudo está perdido, com o apagar da história econômica no Acre vem do Amazonas, que possui o território com maior área coberta por floresta nativa de toda a Amazônia, a iniciativa mais ousada para consolidar o mercado regional de carbono.
Melhor ainda, seguindo os passos trilhados antes no Acre o Amazonas adota a garantia fundiária trazida pelas Unidades de Conservação, nesse caso sendo a maioria inserida na categoria de Reserva de Desenvolvimento Sustentável, para instalar projetos no modelo REDD+ jurisdicional.
Um conjunto de 42 Unidades de Conservação Estaduais pode ser beneficiado, com a garantia do desmatamento zero e a melhoria da qualidade de vida dos produtores residentes.
Vejam bem, são terras sob o domínio do próprio Estado do Amazonas e não do governo federal, áreas em que a tecnologia do manejo florestal comunitário e do uso múltiplo da biodiversidade florestal vão se consolidar fazendo com que o desmatamento zero também permita gerar receita para as comunidades.
Duas das unidades de conservação licitadas, a RDS do Juma e do Rio Negro, vão se somar à produção ou estoque de carbono em quase 12 milhões de hectares de terras estaduais com florestas que nunca, é nunca mesmo, serão desmatadas para plantar capim.
Em recente edital de licitação cinco empresas (BrCarbon, Carbonext, Ecosecurities, Future Carbon e Permian Serviços Ambientais) que possuem experiência reconhecida, se credenciaram para manejar a produção ou estoque de carbono em 21 unidades de conservação estaduais.
Contratos com duração de 30 anos permitirão que as empresas contratadas elaborem os projetos, apresentem e negociem no proeminente mercado de carbono ficando com 15% de toda receita obtida.
Conforme previsto em edital, os 85% restantes da receita arrecadada com a venda dos créditos de carbono serão divididos, meio a meio, entre a unidade de conservação que gerou o crédito e o Fundo Estadual de Mudanças Climáticas para pagamento dos produtores que atuam no programa Guardiões da Floresta para o desmatamento zero.
Finalmente, após mais de 40 anos de muita explicação, o mercado de carbono para o desmatamento zero se tornará realidade no Amazonas.
A quantidade de chuvas concentradas no tempo e no espaço geográfico e a consequente elevação rápida da vazão na bacia dos rios que cortam a região metropolitana de Porto Alegre e arredores, embora difíceis de serem previstas com data e hora certa para acontecer possuem riscos passíveis de determinação.
Existem duas discussões que não ajudam no momento da tragédia e para a eficiente reparação dos danos causado paras as famílias e ao patrimônio público.
A primeira gritaria, quase sempre levada adiante por oportunistas e muito apressados, busca colocar a culpa nos políticos, no batido argumento de que determinado governador ou prefeito se saísse melhor no quesito de preparar a região para a mudança do clima que outro, algo que não existe.
Já o segundo debate, que pode ser considerado inclusive mais inútil do que culpar os políticos, remete a questões religiosas do tipo pecado e castigo, que coloca São Pedro como gestor da precipitação que pode decidir onde, quando e quanto chove.
Fenômenos climáticos, como El Niño, também entram para reforçar a sensação de que tragédias como alagações e secas não possuem causa nas ações da sociedade e, o mais grave, que devem ser aceitas como inevitáveis.
Enquanto isso, a importância da relevante primeira Conferência do Clima, conhecida por Rio 92, e todas as 25 Conferências das Partes posteriores, com destaque para a COP 21 que conseguiu com sucesso fazer com que 195 países assinassem o Acordo de Paris, costuma ser colocada em dúvida a todo momento.
Mais grave ainda, nós brasileiros, quer vivendo no Acre ou no Rio Grande do Sul, locais das tragédias decorrentes de alagações mais recentes, mostramos grande dificuldade para estabelecer uma relação de causa e efeito entre a realidade local e o aquecimento do planeta.
Se converte em verdadeiro abismo intelectual aos acreanos, por exemplo, relacionar o desmatamento para instalação de pecuária extensiva, uma atividade produtiva com sérias limitações para prover o bem-estar econômico que os acreanos necessitam, com as secas e alagações, que acontecem em cada vez menos prazos.
Quando os defensores do agronegócio se propõem a advogar pela defesa do desmatamento da floresta, mesmo diante de uma robusta produção científica contrária, quase todo formador de opinião em particular e a sociedade em geral, parece não acreditar que a alagação do Rio Acre está diretamente ligada ao desmatamento.
Concentrar esforços na mitigação dos danos, ou melhor, atuar na reparação das consequências é o que importa aos gaúchos nesse momento.
A boa notícia é que conseguimos, enquanto sociedade, conceber soluções e instituir sistemas de investimento do orçamento público que possibilitam, no curto prazo, executar os projetos que auxiliam a volta à normalidade em tempo exíguo.
Precisamos sim, após remediado o caos, entender que o Acordo de Paris deve ser discutido e compreendido pela população, pois as respostas estão todas ali.
Governabilidade é um dos vértices do Triângulo de Governo teorizado pelo economista chileno Carlos Matus na década de 1970 para analisar o sucesso de um mandato de governo.
Somada ao Projeto de Governo, que define o modelo de desenvolvimento e à Capacidade de Governo, que define a estrutura institucional e de técnicos disponíveis para execução do projeto, a Governabilidade fornece o lastro social e estabilidade para superar a oposição política.
Juntos e avançando de maneira equilibrada formam os pilares considerados cruciais para que um governo consiga atender as demandas imediatas da população enquanto direciona o desenvolvimento para uma agenda alternativa.
Até seu ocaso em 2018, a hegemonia política que venceu cinco eleições consecutivas e perdurou por 20 anos, mostrou uma força eleitoral e consequente Governabilidade sem igual na história política do Acre.
Pode ser que a forte Governabilidade tenha garantido o retorno eleitoral mesmo depois do Projeto Florestania perder foco no modelo de desenvolvimento ancorado na biodiversidade florestal, ou de outra banda, ao favorecer a pecuária extensiva o Florestania tenha perdido significado mas ganhou apoio popular e Governabilidade.
Difícil estabelecer, com precisão, a data em que o Projeto Florestania deixou de priorizar a biodiversidade florestal visando o resultado eleitoral, contudo, a aprovação da Lei 1.904 que instituiu o Zoneamento Ecológico e Econômico, ou ZEE, em julho de 2007 no Acre, representa marco histórico indiscutível.
Ao destinar porção considerável de terras com logística favorecida pela localização ao longo das rodovias para a pecuária o ZEE aprovado com amplo apoio dos políticos, reunidos no que se chamou de Frente Popular do Acre, o Florestania evidenciou o retrocesso.
Em síntese, mesmo que em um primeiro momento a Capacidade de Governo para concretizar o Projeto Florestania deu ênfase na valorização da biodiversidade florestal como principal ativo econômico acreano, o ZEE concretizou o contrário.
Aquela suposta determinação inicial por um desenvolvimento moderno a ser alcançado por uma economia de baixo carbono e ancorada na biodiversidade florestal, que havia sido estimulada e impingida pelos contratos de financiamento com a tríade BNDES, Bird e Bid, terminara a partir do ZEE.
Relembrando, foi a justificativa do aumento do PIB com desmatamento zero por meio da conservação da biodiversidade florestal que captou o recurso da tríade (Bird, BID e BNDES), jamais a criação extensiva de boi.
Com o ZEE, após sua transformação em legislação, o governo estadual determinou que tipo de atividade produtiva poderia ser implantada em cada local, ou zona, do território acreano.
De pronto o ZEE forneceu legalidade para desmatar uma quantidade considerável de terras florestais localizadas no que se chamou de Zona I, consideradas propicias para o agronegócio da criação extensiva de gado e plantio de cana-de-açúcar.
Assim, aumentar o desmatamento para criar gado solto no pasto, com o ZEE, passou a ser justificável do ponto de vista legal e, por óbvio, político.
Porém, a paulatina debandada dos que defendiam o Projeto Florestania priorizando a biodiversidade florestal e os mais de 30 anos de estagnação econômica da pecuária, não tardariam a contaminar a Governabilidade.
O efeito nefasto da mudança de rumo perpetrada pelo ZEE seria percebido pela sociedade com a publicação das crescentes taxas anuais de desmatamento pelo reconhecido Inpe.
Somente para ilustrar, no ano anterior à perda de Governabilidade e ao consequente fracasso eleitoral de 2018, estudos demonstravam que metade da área de mata ciliar do rio Acre, em uma faixa de 100 metros de largura, estava degradada pela pecuária, comprometendo o equilíbrio hidrológico com risco de ocorrência de secas e alagações.
Sem Capacidade de Governo para trazer o Projeto Florestania de volta para a floresta, a Governabilidade, de olho nas eleições, tentou aliciar os pecuaristas.
Mas isso é outro artigo.